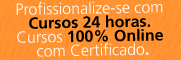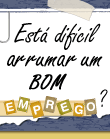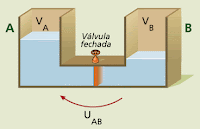Este post descreve os procedimentos de fixação e de instalações elétricas de potência e controle de um inversor de frequência, utilizando com exemplo um inversor da marca WEG CFW09.
-->
Primeiramente devemos escolher o localização em que vai ser instalado o inversor, deve-se utilizar uma superfície plana na posição vertical, livre de poeira e umidade.
Quando instalado dentro de um painel ou caixas metálicas fechadas, prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida, a localização é um fator determinante para um bom funcionamento e assegurar a vida útil de seus componentes.
Fixando o inversor:
Para inversores de 6 A a 14 A colocar primeiramente os parafusos de baixo, apoiar o inversor e então os parafusos de cima como mostra a figura 1: |
| Figura 1 |
Para modelos acima de 14 A colocar primeiro os parafusos na superfície na qual o inversor será instalado colocar o inversor e em seguida reapertar os parafusos como mostra a figura 2:
 |
| Figura 2 |
Ligando as conexões de potência:
No inversor existem conexões de entrada de alimentação e saída para o motor. Nas conexões de entrada deve-se prever um seccionador ( como um contator, chave seccionadora, etc ), que deve seccionar a rede de alimentação quando necessário executar uma provável manutenção.
Deve-se utilizar fusível ultra- rápido do tipo VR com a corrente igual ao indicado para cada modelo de inversor, para proteção correta de seus componentes eletrônicos.
A tensão de rede deve ser compatível co a tensão nominal do inversor. Não utilizar banco de capacitores para correção do fator de potência na entrada e nem na saída do inversor, isso também prejudica a vida útil de seus componentes.
Ligando as conexões de controle.
As conexões de sinal (entradas/saídas analógicas) e controle (entradas/saídas digitais, saídas à relé) são feitas nos seguintes conectores:
As DI são entradas digitais que funcionam com tensão de 24 Vdc gerada pelo próprio inversor que tem como opção de conectar um circuito de comando a distância como por exemplo uma botoeira ou um relé, como mostra a figura 3:
 |
| Figura 3 |
As AI 1 e AI 2 são entradas analógicas de referencia de sinal, nelas podem ser conectadas como por exemplo um potenciômetro ou até mesmo o sinal de um controlador (sinal 0 a 10) Vcc ou (0 a 20) mA / (4 a 20) mA, como mostra a figura 4:
 |
| Figura 4 |
 |
| Figura 5 |
As RL são relé que podem ser utilizados como contatos auxiliares e são programáveis como mostra a figura 6:
 |
| Figura 6 |
Agora você já conhece as conexões de um inversor e para que servem, no próximo post vou publicar quais os tipos de ligações e como proceder para configura- lo.
Leia Mais…